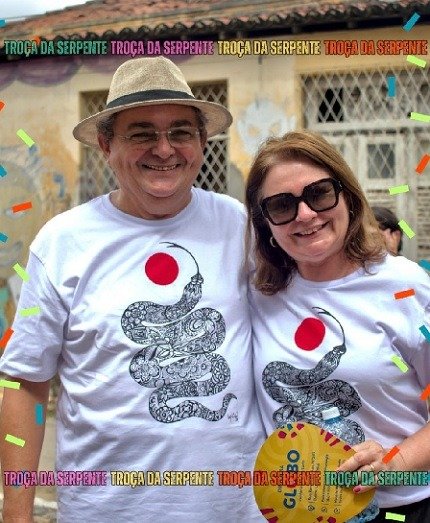O Seridó carrega, em sua trajetória cultural, uma profunda tradição de oralidade e poesia. Essa se revela nas feiras, nos alpendres, nas esquinas, nos folhetos de cordel e nas cantorias que animam as noites de repente. Essa veia poética, tão viva e persistente, tem raízes que remontam à forte influência da cultura hebraica, trazida pelos colonos ibéricos de origem judaica ou mourisca. Judeus e árabes, com seus saberes e tradições, fincaram no sertão um legado que atravessaria séculos.
Estudos revelam que, na cultura hebraica, o verso não é apenas expressão estética, mas uma unidade poética rigorosamente estruturada, muitas vezes baseada em padrões rítmicos ou métricos precisos. Na Bíblia hebraica, a poesia se manifesta sobretudo pelo paralelismo: uma linha ecoa a outra, repetindo ou contrapondo o sentido, num jogo de reflexos e ressonâncias. O Salmo 24 ilustra isso com clareza: “Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe; o mundo e os que nele habitam.” Há também o paralelismo antitético, em que uma linha contrasta com a outra, criando tensão e profundidade. Estruturas como essas facilitam a memorização e a recitação oral — habilidades essenciais em sociedades em que a palavra falada é o principal veículo do conhecimento e da memória coletiva, contribuindo para o aprendizado intercultural e o fortalecimento da convivência social.
Sebastião Dias, in memoriam, um dos maiores poetas repentistas do sertão, que bebeu na fonte da cultura hebraica, prestou uma bela homenagem ao Seridó, — seu chão de origem e inspiração. Em uma das estrofes do poema, observe como um verso repica o outro, afirmando ou contrapondo o sentido, num movimento de imagens e vibrações que facilita o entendimento e a memorização para a declamação:
“Quantos valentes vaqueiros
Correndo nos tabuleiros
Lá de casa eu também via
Ao som do aboio dolente
Raivoso e impaciente
O gado se reunia
Junto aos vaqueiros cansados
Com os ombros machucados
Por jurema e mororó
Aqueles heróis sem glória
Também fizeram a história
Do vale do Seridó.”
Como se vê, o repente, na cultura sertaneja, encontra seu paralelo direto na improvisação poética hebraica. Historicamente, rabinos e bardos judeus criavam versos espontâneos, especialmente em cantigas litúrgicas, debates poéticos ou momentos de comunhão social. Os piyutim — poemas litúrgicos recitados em festas e rituais religiosos — muitas vezes eram adaptados ou improvisados conforme a ocasião. O improviso, além de expressão artística, tinha também uma função pedagógica: transmitia ensinamentos religiosos, educacionais e morais de maneira memorável. O verso estruturado com paralelismo oferecia um “esqueleto” que permitia ao improvisador criar livremente, mantendo ritmo e harmonia, mesmo sem preparação escrita.
Quando menino, eu vivi essa experiência de aprendizado no Seridó.
Essa prática fortalecia socialmente a comunidade. Recitadores e ouvintes tornavam-se participantes ativos do ato poético, compartilhando saberes e emoções numa dinâmica viva e coletiva. Ao chegar ao sertão, esse legado se mesclou à cultura construída na região. O sertanejo passou a cultivar o gosto pela oralidade, pelas conversas, pelo verso improvisado e pela cantoria nas noites quentes, perpetuando uma tradição que é, ao mesmo tempo, poética, educativa e social.
Assim, a poesia do sertão não é mero ornamento: é memória, educação, improviso e resistência. É o eco de vozes antigas — transformadas, mas ainda vivas — no calor das feiras, dos contos de cordel e das noites de cantoria, num pé de parede.
Janduhi Medeiros*